
Alma e Josué voando no Pavão Misterioso (Xilogravura de autoria de Guilherme de Faria)
Segunda parte do romance O Retorno dos Menestréis, de Alma Welt
A CASA DE LUDGER
Capítulo primeiro
____________
Ludugero persiste
Despedimo-nos de Rafisa, emocionadamente. Eu a abracei como irmã e amante, e também como sua discípula dileta. O quanto eu apreendera com esta cigana, com esta maga predestinada, vocês, meus leitores, não poderão saber a não ser em parte. Rafisa não desprendeu seus olhos dos meus, nesta despedida, o fulgor e a insistência do olhar impressionante desta Anti-Medusa benévola aquecia o meu coração, e eu levaria este olhar comigo para sempre e o veria nas lindas noites do sertão estrelado, com também nas do meu Pampa, se me fosse dado um dia voltar às verdes pradarias do Sul.
O “Alma do Sertão” nosso Pavão motorizado, silencioso, subiu na vertical, pairando pela última vez sobre o carroção que fora como um lar para mim, por dezesseis dias, e sobre cujas inusitadas tapeçarias do Oriente eu rolara, abraçada a um corpo tão belo como o meu, mas moreno como sombra acolhedora no deserto, como oásis naquele sertão solar, embora estivéssemos no meio de um agradável bosque. Mas refiro-me à toda aquela viagem da minha alma pela essência seca do chão duro daquele nordeste, que não queria ser considerado um desterro desta Alma, mas seu retorno ao lar, sua casa paterna imponderável, que eu ainda não reconhecia em totalidade. Ai! Que destino o meu! Sou frágil, não cresci completamente, sou na verdade a femme-enfant que eu nunca quis reconhecer, em minhas perplexas contradições. Tenho medos como uma criança, quero ser protegida nos braços de um homem forte. E, no entanto, em que aventuras me meto! Por que sendas, por que trilhas o destino me arrasta, amada por homens e mulheres, mas sem pouso, sem um lar verdadeiro, de casa tão distante! Mas, não será assim todo destino humano? Desterrados do Pai, erramos na Terra, e não temos guarida a não ser como hóspedes passageiros, dependentes “da bondade de estranhos”, como disse Tennesse Williams, pela boca da dolorosa e bela Blanche Dubois, com quem tantas vezes me identifico. Sou patética eu sei, sou romântica e só quero ser amada até o apaziguamento total, por um homem perfeito, um príncipe, imagem projetada do irmão dos nossos sonhos ou de um pai eternamente jovem. Sou incestuosa portanto, e assumida. Deslumbrada na infância com a face invertida do meu espelho, onde enxergava não a minha face, mas a do lânguido Narciso, contra-face de sua ninfa Eco, ecoando, ecoando em círculos concêntricos, em torno de uma flor desesperadamente branca, curvada sobre suas águas.
Voávamos agora, voávamos, e Josué já consultava as suas incompreensíveis cartas, enquanto eu meditava sobre o mistério da cidade onde pousáramos e que eu não conhecera, e que talvez nem tivesse realmente me visto, a não ser nua, isto é, não reconhecera sua princesa, pois agora estava claro: Rafisa com suas artes mágicas me escamoteara aos olhos da população. Minha descida no Pavão não constaria jamais dos anais da cidade, eu agora tinha certeza, e não pude senão sorrir. Ah! Rafisa, um dia nos reencontraremos? Atravessarás este Brasil no teu carroção puxado pela égua Miranda, coitada, tão magra, e estacionarás no bosque mágico de minha infância, na estância, onde Rôdo e eu correremos ao teu encontro para o abraço comovido de amigos de sangue?
Voamos tanto tempo que, perdidos sobre uma planura inóspita e espinhosa, talvez ainda no sertão da Paraíba (Josué já não tinha certeza de nada) acabou nossa água combustível, até a reserva, sobrando somente o conteúdo do menor dos odres, o de beber. Nós estávamos em apuros. A realidade cobrava os seus direitos a estes dois sonhadores e tivemos que descer, “no vapor” como se diz, para não espatifar-nos contra o solo rachado de uma caatinga seca de cem anos. Descemos da barcaça, com o coração apertado, preocupados, pois a paisagem era terrível, desoladora, e só tínhamos um horizonte indefinido a toda volta, reverberante de calor, cuja linha indefinida ondulava como um delírio de febre terçã.
Quando pus os pés no solo, quase tive uma vertigem de calor, e pensei em primeiro lugar, na minha pele tão branca... Eu iria ficar sardenta, pela primeira vez, e para sempre? Senti dor no meu coração. Mas por quê, por outro lado, eu não me queimara nem um pouco até agora naquela viagem e naquele vento, e minha pele permanecia branca e sedosa como sempre? Aquilo era um mistério, que impressionava até o Josué que não era fácil de se admirar, com nada estranho. Ele, mesmo assim, parece que também pensara nisso, e retirou de sua mala misteriosa, uma sombrinha branca como eu e como o meu vestido rendado, e abrindo-a, entregou-a a mim, para começarmos a caminhada.
Andamos por uma hora sob o sol inclemente e sarcástico como os metais do “ Le Sacre du Primtemps” de Stravinsky, eu, com minha sombrinha branca também debruada de renda, e meu vestido alvíssimo, quase tanto quanto a minha pele, minhas sandalinhas finas de ouro e prata, que eram feitas somente para mostrar meus pés, finos, delicados, com os dedinhos segundos mais compridos que os primeiros, como as mãos, que inspirariam aqueles versos do cordelista Guilherme. Mas eu me refiro a isso tudo para ressaltar o absurdo da nossa situação. Eu era incompatível com aquele deserto, eu que era “filha das verdes pradarias floridas, dos campos de trigo louros como os meus cabelos, e do vinhedo, de uvas rubras como os meus lábios”*. Eu iria morrer esturricada e ficaria ali como uma ossada branca. E não seria identificada em minha brancura óssea, como não o fora Dom Sebastião no areal africano. Afinal eu também não era a “Esperada”? Estes pensamentos irônicos, quase delirantes, denunciavam meu ressentimento, minha amargura nascente. Josué não podia me proteger mais do que o fizera arranjando-me aquela sombrinha que comprara na feira de Princesa, e que diziam ser cópia da que a Princesa Isabel usara na sua passagem por lá. Bah! Tudo sonhos, tudo delírios. Fiora e Anunciada tinham razão eu não era feita para a rudeza deste sertão, eu o subestimara em sua crueza, em sua crueldade. E agora iria morrer!
Mas, então, mesmo numa hora tão penosa e angustiante como aquela, sob um calor de quase 50º Celcius, eu, lembrando-me do filme “Barbarella”, dos anos 60 (que eu vira em DVD), ali, sedenta, exclamei: “CHAMPANHE! CHAMPANHE!”, com minha sombrinha muito tesa e meu ar de lady. E caí numa gargalhada cristalina, nada amarga, que perdeu-se na vastidão daquele deserto.
Então, Josué, que me olhara espantado, neste exato momento apontou o dedo, estendendo o braço em frente, e gritou: “TERRA À VISTA! TERRA À VISTA!” Eu não acreditava, o mundo estava verde novamente, e eu me vi sob palmeiras e coqueirais, jaqueiras frondosas e sapotizeiros que cresciam juntos, sem conflito, às margens de uma cascata e sua piscina azul, no doce país de Cocayne*, digo, da Esperança.
Sim, eu bem tinha ouvido que só o humor salva...
_______________________________________
Ficamos uma semana desfrutando do paraíso e “transando” tanto sem camisinha como se o mundo estivesse redimido, e não houvesse punição para os incautos e os inocentes. Aliás eu já via com bons olhos a idéia de um bebezinho em meus braços, mamando em meu seio, e mergulhando com os botos como o menino da escultura grega de bronze no museu de Atenas, que tanto me impressionara, como a essência emblemática da Idade de Ouro, que eu pensava estar revivendo ali, naquele sertão verdejante, inaudito. Mas, afinal, um dia, enquanto eu acariciava meu ventre e o bico dos meus seios com um ar sonhador, Josué aproximou-se e disse:
—Alma, querida, temos de partir, o mundo nos espera, passaram-se sete anos e eu também só soube disso agora, fazendo cálculos com um aparelho que inventei e que tirei da minha mala de equipamentos. Se ficarmos aqui, seremos esquecidos pela humanidade, e tudo o que passamos antes terá sido em vão.
—Mas, Josué, — eu disse— o que passamos, mal me lembro, e que importância tem, se estamos tão felizes? Vem, toma-me, toma-me mais uma vez, mais mil vezes. Só quero isso, e depois... talvez, morrer em teus braços. Mas dá-me um bebezinho, vê meu ventre crescer, ausculta-o, fala com ele, beija-o através do meu umbigo, tira-o de dentro de mim com tuas mãos, lamba-o junto comigo. Vem, vem, vamos fazê-lo agora!
Josué olhou-me fixamente, abanou a cabeça, e mais uma vez deitou-se sobre mim, que vivíamos nus, e me possuiu docemente.
________________________________________
Quando completou-se dez anos de nossa chegada a Cocayne (não me entendam mal, nada a haver com o que alguns estão pensando), eu estava mais jovem e saudável do que nunca, e não envelhecera nem um pouco, o que preocupava Josué, não sei por quê, e que para mim era maravilhoso, com o único senão de não poder admirar a minha beleza intocada, num espelho de cristal mesmo, que não havia ali, e somente poder mirar-me nas águas, aliás cristalinas da nossa piscina natural da cascata. Mas eu não engravidava e isso estava tirando-me o prazer da imortalidade e da juventude eterna, que eu já percebia que reinavam ali, naquele paraíso sertanejo. Comecei a aceitar a idéia de partir. Não há perfeição no mundo, e se eu não podia perpetuar-me e nem tinha telas e tintas para pintar, ou papel para desenhar e escrever meus versos, nem admiradores e leitores ávidos das minhas criações, eu não queria a Eternidade! Lembrei-me, das últimas palavras do grande Jean-Baptiste Corot, no seu leito de morte: “Espero que no Céu, haja pintura!”
Então, fiz um esforço imenso para superar a preguiça e o prazer do meu corpo em eterno deleite (eu não tivera sequer um piriri, ou uma dor de dentes, ou de cabeça, nem um simples resfriado, todos as aqueles anos, e me esquecera totalmente da ameaça de Ludugero). Nunca mais voáramos no Pavão, do que, confesso, estava com saudades. Josué com sua habilidade, conseguira levar água aos poucos, durante aqueles longos anos, até encher os odres do pavão num trabalho de Sísifo, ou melhor, de tonel das Danaides, pois o sol da caatinga fazia evaporar uma parte no caminho e mesmo dentro dos próprios odres de maneira que foram necessários dez anos para ter neles uma quantidade razoável para levantar vôo e escapar daquele deserto. Durante aqueles anos nenhuma vez eu o acompanhara nesse trabalho, pois nem sabia que ele fazia isso. Eu tributava suas ausências à sua vida de homem, que precisava afastar-se um pouco de sua mulherzinha e sair com os amigos, esquecendo-me completamente que ali não havia amigos, não havia ninguém. A verdade é que eu me alienara no meu sonho de dez anos, e não vira o quanto Josué se esforçara e até envelhecera um bocado, naquele esforço brutal, quase cotidiano, que eu ignorava. Tive um grande remorso, quando me dei conta de tanto sofrimento do meu homem. Para ele não houvera Paraíso, e sua sina de homem nunca fora renegada. Ele sim, era o herói, e lembrei-me de que isto queria dizer que ele seria capaz de descer aos Infernos por mim, e voltar, se é que ele já não vinha fazendo isso continuamente há dez anos. Decidi partir com ele.
Josué foi buscar sozinho o Pavão e sobrevoou Cocayne, acenando-me antes de descer sobre a grama entre os coqueiros. Naquele momento ele poderia ter se afastado e fugido, deixando-me ali para sempre. Mas isso nem lhe passou pela cabeça, ele me afirmou depois, quando perguntado por mim, que levantara essa dúvida, num lapso de um minuto em meu espírito. Ele me amava, eu era a sua princesa e ele não me abandonaria, jamais, no paraíso.
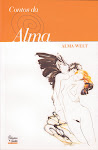


Nenhum comentário:
Postar um comentário